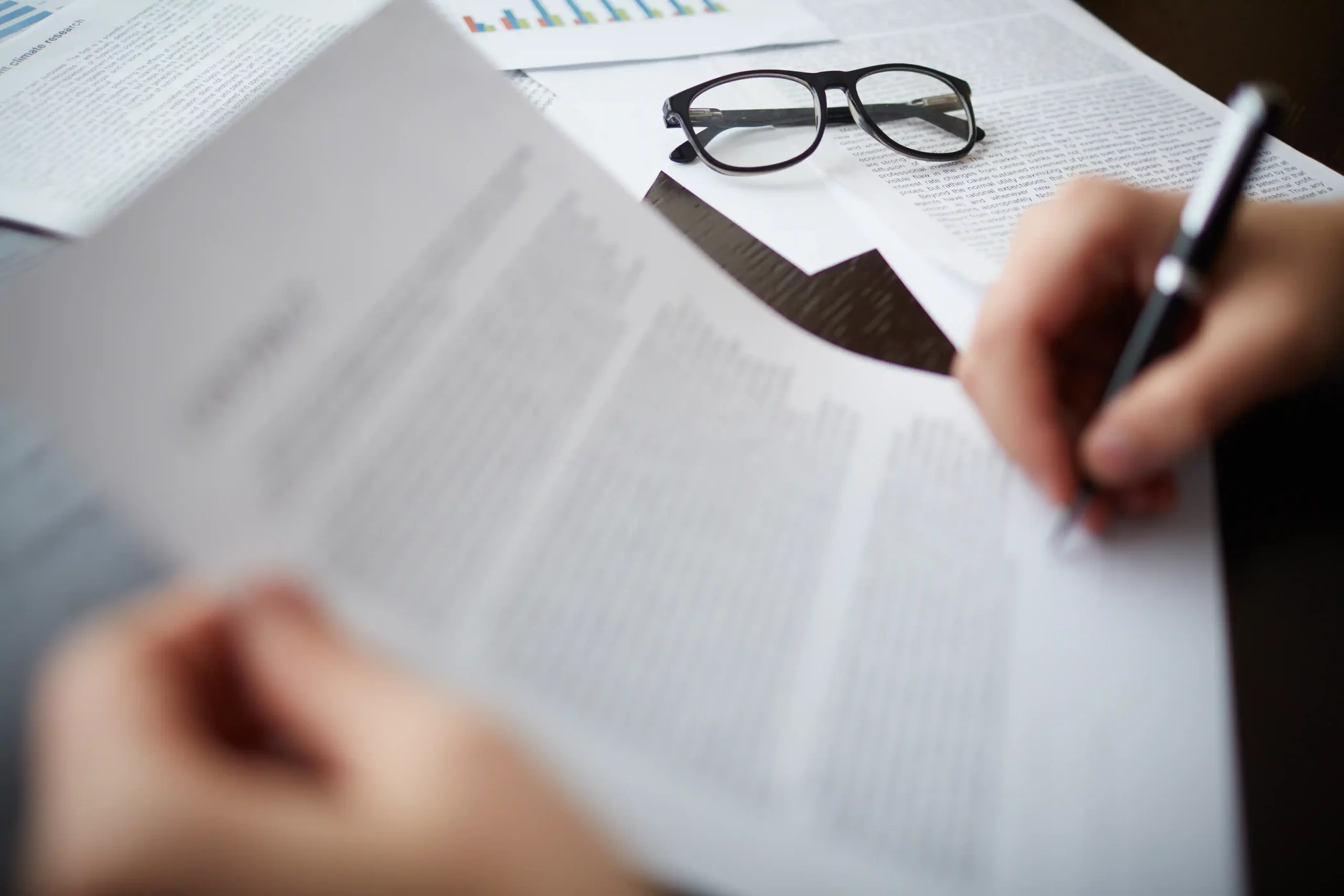Longa protagonizado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro é importante retrato familiar e nacional dos difíceis anos da ditadura militar
“Nós vamos sorrir sim. Sorriam!”, diz Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, juntos a seus cinco filhos, para a matéria de um veículo de imprensa. A matéria abordava as circuntâncias do desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, engenheiro, ex-deputado e ativista político da resistência à ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985.
Dirigido por Walter Salles, o filme “Ainda Estou Aqui” é o retrato mais fidedigno da rotina da família do ativista após seu desaparecimento. Com foco na família unida e feliz, de classe média alta e moradores da zona sul carioca, o longa retrata, por meio de um recorte, o drama vivido pela família de desaparecidos políticos e sua luta por esclarecimento e verdade.
Amigo e frequentador da casa dos Paiva na infância, Walter Salles se nutriu das memórias que tinha da família e do livro “Ainda Estou aqui”, de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado, para contar como Eunice Paiva se converteu numa matriarca forte e irrefreável para criar seu filhos e lutar pelo esclarecimento da morte do marido, apesar do trauma familiar.
Com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco principal, o filme brilha por retratar um outro lado da Ditadura Militar, com as consequências na rotina cotidiana, entre temas afetivos e financeiras, vividas pelas famílias de desaparecidos do regime autoritário.
Se convertendo também em um dos longas de maior bilheteria da história do cinema brasileiro, tanto dentro quanto fora do Brasil, “Ainda Estou Aqui” evoca a memória, verdade e justiça num país que tem um capítulo trágico em sua história recente, e que também tem por padrão o esquecimento e a anistia em situações complexas.
Com uma campanha internacional que conquistou elogios, admiração, sucesso e prêmios inéditos no audiovisual brasileiro, “Ainda Estou Aqui” trouxe para casa a primeira estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Oscar, pelo prêmio de melhor filme de língua não-inglesa, assim como outras duas indicações – melhor atriz para Fernanda Torres e a inédita indicação de melhor filme.
O filme também é um precioso registro da nossa história como país, e tem um profundo legado na formação educacional de estudantes brasileiros. O pedagogo e docente da UniBRAS Digital, Rafael Moreira, destaca nosso dever em não fugir da questão da Ditadura Militar, isso como cidadãos e também como educadores, sendo imprescindível uma abordagem correta das instituições de ensino sobre o tema.
“A instituição de ensino deve abordar, de uma forma aberta, a realidade do regime autoritário, ecoando os aspectos sociais e políticos da época, e trazendo à tona o que realmete foi a ditadura. Não é vender uma outra versão, ou abordar como um momento que já vencemos. É um tema forte, que não se pode fugir como se fosse somente algo do passado”, aponta.
Para o especialista, as instituições de ensino precisam se atentar que filmes como esse, que trazem um recorte histórico e crítico, não podem apenas serem sucesso comercial, mas sim complemento de um passado duro e doloroso. “A ditadura trouxe consequências vitalícias, as memórias não se apagam. O passado não foi apagado. Ele é presente, é real, dolorido, e ainda move vidas e famílias na atualidade”.
Pensando no enorme sucesso e importancia de obras dessa magnitude para o audiovisual brasileiro, a memória coletiva e a Educação e formação pedagógica trazidas pelo filme, elencamos 5 fatos históricos retratados em “Ainda Estou Aqui”.
- O “boom” da música brasileira nas décadas de 1960/1970
A campanha de divulgação de “Ainda Estou Aqui” foi embalada pela canção “É preciso dar um jeito, meu amigo”, de Erasmo Carlos. Escrita em 1971, ano do desaparecimento de Rubens Paiva, a música fala sobre a repressão política em que vivia o país e a necessidade de resistência. Mas quase todas as canções da trilha sonora do filme exploram a música brasileira de uma perspectiva temporal e nacionalista.
Quando a filha mais velha, Veroca (Valentina Herszage), passeia de carro com o namorado e amigos por um Rio de Janeiro idílico, se ouve “Jimmy, Renda-se”, de Tom Zé. Já na reuniãode família e amigos, Rubens (Selton Mello) coloca Juca Chaves com “Take Me Back to Piauí” para tocar, e avisa que a filha, que vai se mudar para o exterior em breve, já vai escutar muita música “gringa” nos próximos tempos.
Outro momento de destaque é quando os agentes repressivos reviram as coisas de Rubens em sua casa, e se deparam com vários discos de artistas brasileiros considerados “subversivos” pelo regime ditatorial, incluindo Caetano Veloso.
Todos esses detalhes importatíssimos do filme marcam um dualidade triste do Brasil nos chamados “anos de chumbo”. O país vivia um verdadeiro florescer cultural enquanto os agentes repressivos perseguiam politicamente e sufocavam artistas, inclusive por meio de censura direta.
Já com forte destaque internacional com a bossa nova no final dos anos 1950, o Brasil era sacudido pela tropicália desde os anos1960, que trazia consigo na música, cinema, teatro e toda a cena artística como um todo uma forte valorização da identidade nacional. Nesse período, o país continuou a exportar excelência cultural e atrair fãs e admiradores em todo o mundo, inclusive influenciando fortemente artistas estrangeiros.
2. O Rio de Janeiro era mais “seguro”
A casa dos Paiva de frente para a praia, na Rua Delfim Moreira, número 80, no Leblon, não tinha muros altos ou cerca elétrica, algo inimaginável para qualquer morador da capital fluminense nos dias de hoje. É que naquele tempo, mesmo apesar da já forte desigualdade social e racial, o Rio de Janeiro não apresentava índices de criminalidade tão elevados como os de hoje.
O filme retrata uma rotina familiar tranquila, com o mar como protagonista. Nas ruas, o pequeno Marcelo Rubens – autor do livro que deu origem ao filme – jogava futebol na rua com os vizinhos. Esse cenário calmo, conhecido de perto pelo diretor Walter salles, que era amigo da família, proprociona a quem assiste o filme um cenário de paz e conforto familiar, tragicamente interropido pela prisão de Rubens.
A inabilidade dos governos federal, estadual e municipal em conter o crescimento do tráfico de drogas rapigonou a realidade carioca para pior. A partir da década de 1970 surgem os primeiros pontos de tráfico de entorpecentes do Rio de Janeiro à Europa, se alimentando das fronteiras sem fiscalização de um país gigante como o Brasil, por onde começaram a circular as drogas e as armas.
No início da década de 1980 o tráfico já era uma realidade comum na capital, com o maiores agrupamentos altamente armados e conflitos entre facçõe rivais. Com a população pobre e negra isolada nos morros por vários anos de limpeza étnica e higienismo social promovidos pela elite da cidade por meio de seus planejamentos urbanísticos alheios a realidade social, a segurança se desmanchou.
Também inclui nesse fato a constante negligência sobre o tráfico e a violência urbana crescente por parte dos administradores públicos, inclusive nos 21 anos da ditadura militar, e o crescimento da desiguldade de renda estimulada pelas políticas econômicas questionáveis desses governos militares.
3. A inflação era uma realidade cotidiana
Como uma mulher influente ainda antes da morte do marido, Eunice Paiva (Fernanda Torres) busca em suas economias um valor suficiente pra que sua filha se estabeleça em sua nova residência no Reino Unido. Mas um fato curioso é que as reservas da matriarca já estavam em libras esterlinas, e guardadas na própria residência.
Fato inimaginável hoje, economizar em moeda estrangeira era a realidade das famílias brasileiras para ter suas reservas resguardadas no contexto de uma inflação elevada. Antes do estabelecimento do plano real, em 1994, o Brasil viveu períodos de forte incerteza monetária, e economizar em moeda local era altamente arriscado, já que os preços mudavam com frequência.
Na época do filme, a moeda do país era o cruzeiro, que seria utilizado até 1986, quando foi substituído pelo cruzado. No período, a inflação anual rondava os 30%, bem diferente dos aproximados 5% de hoje. No final da década de 1970, os ciclos de expansão monetária empreendidos pelos governos militares, associados a crise do petróleo, levaram o país à hiperinflação.
Durante as décadas de 1980 e início de 1990, a inflação anual no Brasil ultrapassou os três e depois os quatro dígitos, chegando a quase 5000% em junho de 1994, antes da implementação do real no mês seguinte. Esse golpe inflacionário derrubou o poder de compra das famílias, aumentou a pobreza e a fome, e foi um dos motivos da queda da ditadura militar.
Nesse cenário inóspito, ter reservas em dólares e libras era essencial para chegar ao final do mês, lembrando que o euro ainda não exisitia nessa época.
4. A imprensa se dividiu em meio às pressões políticas
Sem internet, as notícias circulavam mais lentamente, e a dependência dos meios de comunicação hegemônicos era muito forte. Em muitos momentos do filme a imprensa é vista como parceira do regime, com a personagem Eunice citando durante uma entrevista a existência de uma “rede de notícias falsas” que davam suporte ao governo autoritário.
A verdade é que a maioria esmagadora dos grandes grupos de comunicação do país apoiaram o golpe de 1964, e conservaram uma linha editorial simpática ao regime. A justificativa seria os riscos de uma “invasão vermelha”, em que supostamente grupos de guerrilheiros marxistas tomariam o poder.
Mas é claro que nem todos os profissionais da imprensa concordaram. Por isso, muitos veículos opositores ao governo vigente foram perseguidos, censurados e obrigados a fecharem suas portas. Era comum também ver notícias censuradas nos jornais, com receitas de bolo no lugar das matérias.
Um dos nomes mais lembrandos na perseguição política à jornalistas é Vladimir Herzog, na época diretor de telejornalismo TV Cultura, e professor na escola de comunicação da USP. Em 1975, o jornalista foi preso, torturado e morto depois de se apresentar voluntariamente para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com a resistência.
Essa realidade fragmentada na imprensa é percebida em vários momentos do filme, como quando Eunice questiona seus colegas se não se poderia denunciar o desaparimento do marido nos jornais, recebendo uma negativa, já que os veículos estavam sendo censurados, e que o melhor caminho seria buscar jornais americanos ou franceses para fazer a denúncia.
5. Os torturadores não foram punidos
Ao contrário de países vizinhos que passaram por regimes ditatoriais parceiros dos militares brasileiros, como a Argentina, o Chile e o Uruguai, nenhum militar e torturador brasileiro foi punido. Isso porque em 1979 entrou em vigor a Lei da Anistia, instrumento encontrado pelo militares brasileiros, setores sindicais e membros da sociedade civil para trazer um ponto final à situação delicada do país.
Assinada pelo presidente de fato, João Figueiredo, a lei prevê anistia a todos os crimes políticos cometidos entre 2 de agosto de 196 e 15 de agosto de 1979. Nisso, todos os torturadores e agenes de crimes antidemocráticos cometidos pelas forças militares não puderam ser punidos.
A lei não passou despercebida pelos militantes dos direitos humanos, que entenderam a legislação como uma garantia de impunidade para os criminosos. No entanto, ela teve ampla aceitação popular, já que diversos nichos da sociedade brasileira viam, na época, sua aprovação como uma garantia necessária para o longo caminho da redemocratização do país.
No fim dos anos 2000, a vizinha a Argentina – que já havia punidos militares de alta patente nos anos 1980 – teve suas leis de anistia revistas e derrubadas pela Suprema Corte do país, abrindo brecha para que mais de mil agentes da repressão fossem então julgados e condenados, alguns com prisão perpétua. Isso estimulou autoridades brasileiras a buscaram uma revisão da Lei da Anistia brasileira, sem sucesso.
Enquanto várias entidades, entre elas a OAB, viam a lei como insconstitucional, já que anistiar crimes de tortura e assinatos seria contrário a vários tratados internacionais assinados pelo Brasil, outros se queixavam que retornar ao assunto só levaria a mais “revanchismo”, e que a lei era uma das bases da nova democracia brasileira. Em 2010, o Superior Tribunal Federal decidiu que a lei não deveria ser revista.
Para trazer mais esclarecimentos sobre os crimes cometidos durante o período, em 2011 foi instituída a Comissão Nacional da Verdade (CNV), colegiado composto por sete membros auxiliados por vários pesquisadores e historiadores. O objetivo era apurar todas violações de direitos humanos e terrorismo de estado promovidos entre 1946 e 1988.
O colegiado produziu então um documento com lista contendo ao todo 434 nomes de mortos e desaparecidos vítimas de terrorismo de Estado. Muitos deles não tinham sequer envolvimento com a luta armada, outros nem mesmo participavam da resistência. Foi também a partir da comissão que se pôde esclarecer a morte do ex-deputado Rubens Paiva.
De acordo com as investigações, Rubens Paiva foi preso e torturado, e morreu entre os dias 20 e 22 de janeiro de 1971, no Destacamento de Operações e Informações (DOI) do I Exército, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião do esclarecimento, 5 militares foram responsabilizados pela sua morte. Nenhum deles foi jugado, e três já faleceram. O corpo do ativista e ex-deputado jamas foi enconrrado.
Atualmente, vários ativistas, juízes e entidades seguem defedendo a revogação da Lei da Anistia. Em dezembro de 2024, o ministro do STF Flávio Dino decidiu que a ocultação de cadáveres não faz parte dos crimes anistiados pela lei, por considerar que sem o esclarecimento, o crime continua em consumação. O entendimento defendido pelo ministro foi emitido em decisão sobre os restos mortais dos integrantes da Guerrilha do Araguaia.
Em fevereiro de 2025, a atual presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, defendeu a revogação da Lei da Anistia. Enquanto a lei seguir em vigência, os torturadores seguem impunes, com suas patentes militares e recebendo aposentadorias e benefícios. Outros já são falecidos sem a devida responsabilização, muitas vezes com familiares ainda recebendo tais benefícios financeiros. (Texto: Bruno Corrêa – jornalista da Assessoria de Comunicação do Ecossistema BRAS Educacional)